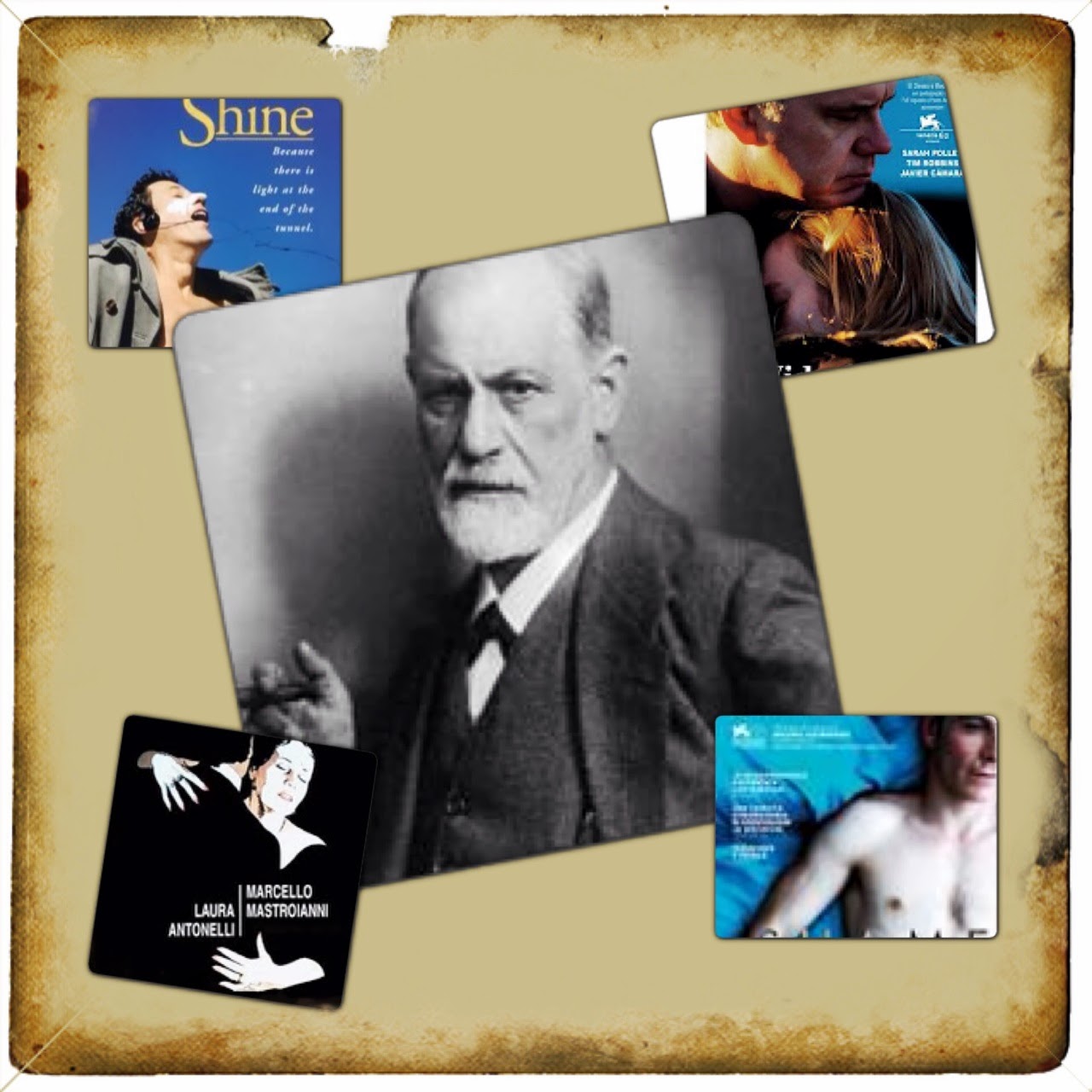ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR
A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE*
Conrado Ramos
Psicanalista. Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Pós-doutor pela PUC-SP. Doutor pelo Instituto de Psicologia da USP. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa Psicanálise e Sociedade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP.
E-mail: conrado_ramos_br@yahoo.com.br
Resumo: A partir das relações entre um corpo civilizado e um corpo sintomático (C. SOLER), discute-se sobre a participação da realidade na formação de sintomas. Discute-se, ainda, o caráter político do sintoma como objeção às figuras de domínio do Outro. Conclui-se que o corpo e o significante podem ser considerados como o material da formação do sintoma, num sentido próximo ao dado a este termo por T. W. Adorno em sua teoria estética, isto é, o material pensado dialética e historicamente.
Palavras-chave: corpo; formação do sintoma; realidade psíquica; sociedade contemporânea.
Abstract: Starting from the relations between a civilized body and a symptomatic body (C. SOLER), is discussed the participation of reality in the formation of symptoms. We also discuss the political character of symptom as an objection to figures that dominate the Other. It is concluded that the body and the signifier may be considered as the material of the symptom formation, in a sense close that is given for this term by T.W. Adorno in his esthetic theory, that is to say, material which is drawn up in a dialectical and historical manner.
Keywords: body; formation of symptoms; psychic reality; contemporary society.
* Texto apresentado em debate coordenado por Ana Laura Prates Pacheco e com a participação de Paulo Schiller, sobre o tema “O lugar do corpo na contemporaneidade”, realizado em 26 de março de 2010 no CEP – Centro de Estudos Psicanalíticos, em São Paulo.
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
CONRADO RAMOS
Meu propósito neste artigo é esboçar uma reflexão preliminar, a partir de uma perspectiva lacaniana, sobre o lugar do corpo na contemporaneidade: quais conse- quências podemos extrair, dentro dessa perspectiva, da articulação do binômio corpo e contemporaneidade. Haverá um corpo contemporâneo? Haverá um corpo considerado extemporal submetido a práticas consideradas contemporâneas?
Considero primeiramente, para iniciar esta reflexão, o que diz a historiadora Denise Sant’Anna (1995): “o corpo é, ele próprio, um processo. Resultado provisó- rio das convergências entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos, ele pertence menos à natureza do que à história.” (p. 12).
O corpo, assim, pode ser entendido como um objeto que concentra história. É his- toricidade concentrada e devir, por sua potencialidade histórica. A relação do binômio corpo e contemporaneidade, portanto, não admite apenas a forma corpo na contem- poraneidade, mas também a forma contemporaneidade no corpo – ou seja, é muito bem possível discutir também sobre o lugar da contemporaneidade no corpo, para abordar, de modo dialético, o binômio que nos ocupa.
Considero agora um segundo ponto: o que é um corpo? Lacan (1972-73/1982, p. 35) sugere que a experiência analítica não nos permite ir muito longe sobre o que é um corpo ou sobre o que é estar vivo. O que podemos saber sobre esta substância a que chamamos corpo, é que isso se goza. O corpo interessa aos psicanalistas na condição de ser aquilo de que se goza. Não é muito, mas podemos extrair daí uma série de consequências para o binômio corpo/contemporaneidade.
Pois bem, o corpo é aquilo de que se goza. O que quer dizer que para gozar se precisa de um corpo. Mas daí tiro mais uma questão: qual gozo? Qualquer maneira de gozo vale a pena? Qualquer maneira de gozo vale gozar?
Em A Terceira, Lacan (1974) afirma que lalíngua civiliza o gozo. Os discursos formalizados por Lacan são aparelhamentos do gozo, formas de ordenar o gozo no laço social. Isso quer dizer que o gozo tem lugar na civilização, ou seja, se o corpo é o de que se goza, pode-se fazê-lo civilizadamente, de modo que nos seja possível listar as formas hegemônicas de gozo em cada época, mesmo que elas devam ser trabalhadas pela crítica da ideologia. Exemplos: o gozo do trabalho excessivo na sociedade de pro- dução ou o gozo do consumismo na sociedade de circulação. Ainda que problemáticos e criticáveis, são, de qualquer modo, gozos possíveis de corpos civilizados.
Mas há um problema, e um problema que só a psicanálise pode identificar de modo satisfatório: nem todo gozo é civilizável. Há gozos que insistem em não se.r
324 A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
deixar civilizar, gozos que não se escrevem e gozos que são estranhos a quem goza. O sintoma em seu sentido psicanalítico, por exemplo, o que pode ser senão um gozo que escapa, gozo não civilizado?
Aí está: se admitirmos que existe um corpo civilizado, temos que reconhecer tam- bém um corpo do qual se goza de modo não civilizado, um corpo sintomático. Colette Soler (2006) nos esclarece sobre a diferença entre estes dois corpos. Sobre o corpo civilizado ela diz:
O corpo civilizado, que pode comprovar como somos civilizados cada um em seu lugar, não se dissimula para o Outro. O corpo civilizado obedece ao discurso, é um corpo dócil, aqui um parênteses sobre a luta da civilização e o domínio de algumas lutas que nos conduzem a denunciar as modernidades de gozo de outros lugares; é bastante conhecido ao menos na Europa, a exibição das mulheres, o costume de enfaixar os pés das chinesas para trás durante um tempo, o pescoço de algumas mulheres na África, os lábios alargados e as vio- lências terroristas. Todos estes fatos podem aparecer como algo bárbaro, em todos os casos são produtos do discurso da civilização, não são fatos do corpo animal, são produtos do discurso da civilização e do avanço de todos os preconceitos de uma sociedade; há sempre os costumes de gozo, o que chamamos o habitus, do termo que vem do latim. (p. 90)
A respeito do corpo sintomático, temos o seguinte trecho:
O sintoma, o que no sentido comum chamamos sintoma, é uma formação de gozo não standard, sempre singular; conhecem a tese de Freud, que cada psicanálise verifica sempre no coração de um sintoma a presença de uma pulsão que não foi admitida na economia do eu. Que quer dizer não admitida na economia do eu? Quer dizer exatamente uma pulsão que não conseguiu passar às formas standards (...). O sujeito está estruturado como o discurso comum que reprime os gozos não standards e o sintoma manifesta o fracasso da repressão interna. Por isso podemos dizer que o sintoma é um opositor em certo sentido (...). (p. 94)
Podemos extrair desta citação uma conclusão muito interessante: se o contemporâ- neo no corpo, a história no corpo pode ser apreendida pelos gozos estandardizados, por mais alienantes, criticáveis e estranhos que nos pareçam, o corpo sintomático, os gozos não estandardizados, não teriam um valor político na medida em que constituem uma dissidência? Ao corpo sintomático não caberia, por seu estatuto dissidente, a condição de história em potencial? Não é, de certo modo, de gozos dissidentes que se faz a ruptura de um status quo de gozo? Não é por isso que a contemporaneidade, que quer se preservar, constrói diversos meios – farmacológicos, educativos, sugestivos – de calar o sintoma? Não haveria, na escuta do corpo sintomático, um ato político de abertura de um devir?
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 325
CONRADO RAMOS
Ainda estão por serem feitas as articulações entre o sintoma e a história. Certamente elas nos trariam uma nova dimensão das relações entre corpo e sociedade. Se tomar- mos, por exemplo, nossa sociedade como sociedade do consumo, o descompasso entre as promessas sociais de gozo pelo consumo – ou seja, um duvidoso, mas aclamado bom uso do corpo civilizado – e a experiência singular do sofrimento – isto é, o corpo sintomático – desmascara as inverdades presentes nessas promessas e presentifica em sua negatividade a possibilidade da transformação da realidade social. Ou, para citar Walter Benjamin (1940/1994): “o fruto nutritivo do que é compreendido histori- camente contém um seu interior o tempo, como sementes preciosas, mas insípidas” (p. 231). É assim que o corpo sintomático deve ser compreendido historicamente.
Avanço agora com cuidado nesta reflexão que proponho, pois, o que os analistas observam na prática clínica cotidiana é que esse corpo sintomático, justamente por não ser dócil, não cede a interesses político-ideológicos. Cito Jairo Gerbase (2009):
No campo que nos concerne, o do sintoma dito mental, há pelo menos três orientações bem definidas: a da psicologia, que supõe que a condição da formação do sintoma seja o ambiente (a família, a sociedade, o capitalismo); a da biologia, que supõe que a condição da formação do sintoma seja a genética (a hereditariedade, a neurotransmissão); e a da psicanálise, que supõe que a condição da formação do sintoma seja o real.
Dito de outra maneira, em termos empíricos, quando um sintoma mental se desencadeia, a psicologia tende a responsabilizar uma mãe que se separou deixando o filho aos cuidados do pai. Diz que se trata de uma má mãe, que o menino é não amado, não desejado e que isso justifica o desencadeamento de um sintoma. Por seu turno, a tendência da psiquiatria bio- lógica é dizer que se trata de um condição genética; recomenda procurar na hereditariedade o comparecimento de casos semelhantes. Tal como não se responsabilizaria uma mamãe por um filho ter desenvolvido um sintoma somático, a posição biológica não responsabiliza o ambiente pelo desenvolvimento de um sintoma mental.
A contribuição da psicanálise é dizer que não há nenhuma participação da realidade na for- mação do sintoma, que o desencadeamento de um sintoma é do real, que houve aí encontro do real, que o sujeito encontrou algo impossível de ser dito, encontrou algo inefável e que vai ser necessário tagarelar para poder dizê-lo, para poder tocar o real. (p. 102)
Pois bem, que corpo é esse, da psicanálise, que não responde ao que é da ordem do ambiente e do genético, mas responde ao que é da ordem da linguagem? Que corpo é esse, sintomático por condição, que responde quando é afetado por um inconsciente, quando encontra com um indizível, um impossível de ser dito? Que corpo é esse cujo
326 A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
sintoma nenhuma cirurgia, nenhum condicionamento, nenhuma reeducação, nenhum remédio dissolve, mas só a tagarelice? Pela hipótese lacaniana, esse corpo é o sujeito do inconsciente.
Em geral, é um corpo sintomático que faz uma pessoa procurar um analista. E se é um corpo sintomático é, antes de mais nada, um corpo não civilizado, é um corpo que, em certa medida, escapa à sua contemporaneidade. Dificilmente alguém procura análise por causa de um gozo que reconhece como estandardizado (a não ser que haja aí um excesso de gozo, mas isso justamente o retira do standard). Há que se questionar se a angústia é um fenômeno contemporâneo, ou se a tristeza (que eu prefiro à depressão) é um afeto contemporâneo. São produzidas na contemporaneidade, mas como aquilo que escapa às suas demandas – seria melhor considerá-las como modos de crítica do contemporâneo; tomar a tristeza e a angústia, por suas declamadas altíssimas frequên- cias, como contemporâneas, contém o risco de erigi-las resignadamente como norma: “não há nada o que fazer, é assim mesmo, hoje em dia as pessoas são tristes e angustiadas, conforme-se e tome remédios”. De minha parte, prefiro entender a tristeza e a angústia como sinais do que não quer se con-formar: se há muita tristeza e angústia em nossos dias, é porque os corpos sintomáticos têm algo a dizer. O consumismo pode ser um gozo contemporâneo, mas as angústias de quem não se resolve com o consumismo é a prova de que esse gozo não dá conta do corpo ou de que o corpo não cede ao con- sumismo. Vale dizer: o corpo é não-todo contemporâneo.
Sidi Askofaré (2009) aponta que o sintoma, em nossos dias, se manifesta por meio de negativas às expectativas dos pais, dos chefes, das instituições, do poder. O sintoma é uma resistência às imposições do mestre. Ele tem, em geral, por forma, o não consigo ou o não quero. Na primeira forma ele aparece atravessado pela resignação, mas na segunda incide seu conteúdo ético e político. Fazer falar um sintoma pode ser levá-lo do não consigo ao não quero? O que isso traz para pensarmos a função política da psicanálise?
Se o sintoma é uma objeção do sujeito às figuras de domínio do Outro, podemos dizer que os sintomas de uma coletividade variam conforme as suas figuras de poder? Neste caso, não seriam delimitados social e historicamente? Coloco então a questão que me norteia neste artigo: como pode a contribuição da psicanálise ser a de que não há nenhuma participação da realidade na formação do sintoma, que o desencadeamento de um sintoma é do real, se podemos encontrar formas social e historicamente determinadas para o sintoma?
Adianto desde já que considero esta contradição aparente. Mas devo advertir que não considero ser possível apostar numa sociedade sem sintomas, numa sociedade
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 327
CONRADO RAMOS
ideal capaz de reconciliar corpo sintomático e corpo civilizado, pois o real provoca tropeços em toda e qualquer sociedade, já que nenhum laço pode dar conta do que Lacan chama de inexistência da relação sexual. Mas isso não quer dizer, também, que a intromissão do real não seja interpretada de formas diferentes em diferentes sociedades. Aliás, o que é o sintoma senão uma interpretação da intromissão do real?
O que a escuta do corpo sintomático ensina aos analistas no dia a dia da clínica é a importância de estar atento àquilo que da realidade contemporânea se apresenta como indizível – traumático, portanto (ou melhor, um troumatismo). A sociedade e a cultura produzem efeitos que as próprias sociedade e cultura não permitem assimilar num primeiro momento. Não estaria aí uma participação da realidade na formação do sintoma do corpo falante? É assim que podemos encontrar, naquilo que Benjamin (1989) chamou de fator do choque, os efeitos que as transformações e rupturas sociais fazem passar primeiro, e não à toa, pelos domínios do traumático e da arte. O sintoma e a arte constituem, de certo modo, as primeiras respostas do encontro do corpo falan- te com a dimensão real posta por aquilo que a história lhe impõe como novidade não assimilável, indizível. Assim é que Charlie Chaplin traduz como enlouquecedores os efeitos da revolução industrial na vida do operário inglês do século XVIII; ou Walter Benjamin lê na poesia de Baudelaire uma tentativa de aparar os choques da emergên- cia das multidões na Paris do século XIX; ou ainda Jocelyne Vaysse (1993/1995) ana- lisa os efeitos de ideias fantasmáticas de um coração imaginário irredutível ao biológico colocando em perigo atos cirúrgicos de transplantes tecnicamente bem sucedidos. O aparecimento, na realidade, de máquinas, multidões e transplantes de órgãos, em diferentes tempos e lugares, pode provocar no sujeito essa dimensão do encontro do real? Eis outro modo de formular minha questão.
Cito Jairo Gerbase (2011):
Tudo leva a crer que a realidade conspire na formação do sintoma, mas a hipótese lacaniana exige que se vá buscar na realidade o que possa ser chamado de encontro do real, ou seja, o que da realidade resultou impossível de dizer, o inefável. (p. 21)
Neste sentido, o encontro com um olhar, com uma cena, com uma frase, pode ser traumático para um sujeito, pois podem conter para ele um significante, uma mensa- gem intraduzível, impossível de dizer. Logo, não é o fato em si, mas seu valor signi-
328 A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
ficante que pode vir a produzir um sintoma como aquilo que vem repetir o dizer um impossível de ser dito. O sintoma nasce, assim, de um equívoco, um mal-entendido, como uma interpretação para um indizível.
Por exemplo, o flagrante da relação sexual dos pais com a brusca interrupção segui- da da frase “ele não viu nada” produziu como resposta uma inibição intelectual e um conjunto de sintomas que chegaram a ser nomeados de transtorno de deficit de atenção; a visão da cena na qual a mãe mostra a uma professora o desenho de dinossauro do filho gerou neste, por uma interpretação equivocada, a instalação de tiques nervosos que imitam movimentos de répteis. Podemos encontrar essa mesma estrutura nas escolhas de objeto sexual: a enigmática mensagem recebida de um pai homofóbico “você só pode brincar com meninos e não com meninas” produziu, como interpretação de um garoto, a escolha homossexual de objeto.
Trago novamente a questão: a tomada do corpo por um imperativo da beleza; a normalização, a manualização e o desencantamento higiênico e psicológico dos cui- dados parentais; a produção de um “saber verdadeiro” sobre a educação correta dos filhos; a sexualização comercial da imagem da criança; a fragmentação científica do corpo e a mercantilização de suas partes, a big-brotherização panóptica e agorafóbica dos corpos nas multidões e nos recantos dos espaços públicos; a narcísica encenação banalizada do espaço privado pela internet e reality shows; o voyeurismo vulgarizado pela monotonia do cotidiano alheio, etc.; será que tais imperativos sociais e culturais não geram nos sujeitos angústias de inadequação ou de demasiada adequação? Será que tais elementos não produzem mal-entendidos no encontro do sujeito com o Outro? Será que esses novos gozos, em seus processos de estandardização, não geraram, ou ainda geram, encontros do real e produção de sintomas? E em que medida alguns des- ses relativamente recentes gozos de corpos civilizados já não foram gozos de corpos sintomáticos? Não são esses gozos a tentativa de estandardização do que antes era não civilizado? Aqui vale o que escreveram Horkheimer e Adorno (1947/1991): “os vícios privados são em Sade, como já eram em Mandeville, a historiografia antecipada das virtudes públicas da era totalitária” (p. 111). Será que a cultura assimila, na forma do acting out, o corpo sintomático que não pôde ser ouvido? Calar o corpo sintomático é colocá-lo deformado na cultura, que por sua vez também se deforma.
Por outro lado, de que modo o contemporâneo fornece o material necessário para “dar forma épica ao que se opera pela estrutura” (LACAN 1973/2003, p. 531)? Algumas frases que, direta ou indiretamente, pode-se extrair da clínica: “se eu tivesse
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 329
CONRADO RAMOS
um corpo escultural a relação sexual seria possível, mas não tenho dinheiro para isso, então sigo com minha crença e minha esperança de fazer Um, um dia”; “estou vindo aqui tempo- rariamente, até eu encontrar o remédio certo para acabar com meu sofrimento: têm tantos por aí que um deles deve funcionar”; “gostaria de ter um outro corpo e, por isso, fico nesta eterna dúvida se devo ou não modificá-lo”. Cada um, a seu modo, é capturado e se utiliza desse corpo no contemporâneo para sustentar seu sintoma, para colocar seu mito de re- cuperação de um suposto gozo perdido, que certamente está por aí, quer nas infinitas maravilhas de que o mercado dispõe, quer nos produtos que a ciência está por dar à luz, quer nas verdades que as novas ou renovadas religiões revelam aos seus escolhidos. É tudo uma questão de procurar melhor, de esperar um pouco mais ou de tentar mais uma vez. O corpo falante coloca nessas construções míticas sua interpretação de que há relação sexual. Usa para isso os ideais do corpo civilizado, do material fornecido pelo contemporâneo. No entanto, o furo do troumatismo insiste em não se escrever e ecoa, então, a disjunção entre o que é da realidade e o que opera pela estrutura, entre o corpo civilizado e o corpo sintomático.
O significante que afeta o corpo, “você só pode brincar com meninos e não com meni- nas”, é um significante que, na contingência do ouvir, o sujeito selecionou do Outro. Esse significante é prenhe de afeto e goza, representando o sujeito para outros sig- nificantes na busca de um sentido que escapa. É aí que entra o material, para tentar assegurar, com o nome de realidade psíquica, um pouco de sentido para esse gozo enigmático. O corpo na contemporaneidade – e mesmo o corpo da contemporaneida- de – pode ser aí abraçado, se não como causa de uma forma de gozar, como realidade capaz de dar consistência a um gozo, promovendo e possibilitando um semblante de corpo civilizado.
Há um equívoco na ideia de que o ser humano possui um corpo e que nesse corpo pode surgir o simbólico. Ao contrário, há o significante e o nascimento de um corpo afetável por esse significante. O significante não é um acontecimento que brota dentro do corpo, mas é o corpo que cai dentro da linguagem, de modo que, para a psicanálise, não há um corpo pré-verbal, não há sinais analíticos de um corpo-vivo virgem da linguagem. Há, isto sim, sinais de significantes virgens do sentido e que, por isso, marcam o corpo de afetos antes de marcá-lo de significações. Esta anterioridade dos significantes é o que permite não apenas o corpo falante da psicanálise, mas a própria relação entre corpo e cultura.
330 A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
Por exemplo: ninguém poderia sentir dor no fígado antes que a anatomia mapeasse o corpo inventado pela medicina e nomeasse o fígado. Deste modo, o silêncio desse órgão foi perturbado (SANT’ANNA, 1995, p. 11) e as pessoas podem sentir dor no fígado, mesmo que a própria anatomia tenha nos ensinado que não há nervos no fíga- do e que, portanto, ele não dói. Isto permite, ainda, que um psicótico tenha vomitado seu fígado e que este lhe apareça à noite para reclamar de sua vida promíscua.
Sabemos o quanto a psicose e a histeria mapeiam o corpo de um modo diferente do anatomista; sabemos também como o obsessivo crê cindir corpo e pensamento, ao preço da inde-cisão do pensamento.
E o que é a fobia senão o deparar-se com o corpo afetado pelo significante? “– O que é isso que trago pendurado?” (Somente para nos lembrarmos do Wiwimacher do pequeno Hans.)
A contemporaneidade, rica em aparelhos para fragmentar, talhar, retalhar, costurar, retratar, filmar, medir, moldar, reduzir, alongar, reformar corpos, segundo a lógica do anatomista, tem salvado muitas vidas que antes estavam condenadas pela escuridão à qual os recônditos do organismo estavam submetidos; mas, por outro lado, tais práti- cas contemporâneas de iluminação e desencantamento do corpo têm dificultado so- bremaneira que se possa perceber quando o sintoma de um sujeito diz respeito, não ao corpo do anatomista, mas ao corpo do psicanalista, isto é, ao corpo recortado/afetado pelo significante. A ciência contemporânea acredita demais no seu corpo, a ponto de não poder ouvir que uma esofagite crônica pode ser o memorial de gozo de um sujeito procrastinador que em determinado momento da infância ouviu um “coma toda sua co- mida ou vá morar com sua avó!”, ficando com este indecidível entalado na garganta. Essa esofagite, que passou por exames e tratamentos, era na verdade uma mensagem que “guardava seu significado no real” (GERBASE, 2010). O corpo falante que constitui esse sujeito só pôde desfazer pela fala o que havia feito com o significante.
Será que as práticas e teorias corporais atualmente hegemônicas são capazes de entender que, do mesmo modo que a perna paralisada da histérica é uma mensagem, o obsessivo manca com seu pensamento?
Por fim, deixo uma indicação para pensar a relação entre o corpo, como aquilo de que se goza, inclusive no sintoma, e a realidade contemporânea, que não participa da formação do sintoma, mas determina suas formas. Afirmei que o corpo falante coloca, nas construções míticas que faz ao ser capturado pela ideologia de uma época, sua in- terpretação de que há relação sexual, utilizando para isso os ideais do corpo civilizado
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 331
CONRADO RAMOS
como material fornecido pela contemporaneidade. É no conceito de material que, tal- vez, deveríamos nos deter um pouco mais. E é aqui que coloco a indicação, sugerindo uma aproximação com o conceito de material na teoria estética de Theodor Adorno.
Para Adorno (1970), material é aquilo ao qual os artistas dão forma: palavras, acor- des, cores, sons, texturas, procedimentos técnicos, etc. O material é inevitavelmente histórico, pois depende das transformações e dos condicionamentos técnicos: é espírito sedimentado que, na ilusão de ser puro dado para o uso do artista, revela, num proces- so de desistorização, “sua tendência histórica enquanto tendência da razão subjetiva” (p. 171). Vejamos como propõe Adorno em Filosofia da nova música (1958/1989):
As exigências impostas ao sujeito pelo material provêm antes do fato de que o próprio “ma- terial” é espírito sedimentado, algo socialmente preformado pela consciência do homem. E esse espírito objetivo do material, entendido como subjetividade primordial esquecida de sua própria natureza, possui suas próprias leis de movimento. Como tem a mesma origem do processo social e como está constantemente penetrado dos vestígios deste, o que parece puro e simples automovimento do material se desenvolve no mesmo sentido que a socie- dade real, mesmo quando estas duas esferas já nada sabem uma da outra e se comportam com recíproca hostilidade. (p. 36)
O corpo e o significante compõem o material do sintoma (o que, aliás, Lacan traz dos estoicos), mas, se o significante vem do Outro, sua origem é a mesma do processo social e não pode reservar-se de estar penetrado pelos vestígios deste. A linguagem, em Lacan, não possui a mesma objetividade que o material em Adorno, mas questio- no se não possuem a mesma lógica. Cito Adorno (1958/1989):
O artista não é um criador. A época e a sociedade em que vive não o delimitam de fora. Mas o delimitam precisamente na severa exigência de exatidão que suas mesmas imagens lhe impõem. O estado da técnica se apresenta como um problema em cada compasso: em cada compasso, a técnica, em sua totalidade, exige ser levada em conta e que se dê a única resposta exata que ela admite nesse determinado momento. As composições não são nada mais do que respostas deste gênero, soluções de quebra-cabeças técnicos, e o compositor é a única pessoa que está em condições de decifrá-los e compreender sua própria música. O que faz, ele o faz no infinitamente pequeno e se realiza na execução do que sua música exige objetivamente dele. Mas, para acomodar-se a tal obediência, o compositor tem necessidade de uma desobediência total, da maior independência e espontaneidade possíveis. (p. 38)
Chama-me a atenção, se não posso ainda afirmar a homologia, ao menos a analo- gia que podemos fazer entre o artista e o sujeito, que são retirados do plano idealista
332 A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
da criação e colocados por suas composições como respostas, soluções de quebra- cabeças, sendo o artista/sujeito o único em condições de decifrá-los. Exigido pelo material numa necessária obediência, o artista/sujeito deve render-se às contingências da maior independência e espontaneidade possíveis na sua lida com este material que ele cifra e decifra. Cabe questionar se o material – compreendido neste sentido mesmo que lhe dá Adorno – não afeta o artista como uma linguagem. A composição de um sujeito – seu sintoma, se me permitem – não é uma criação ex nihilo, mas não é também uma total delimitação de fora, e no entanto não pode deixar de ser uma expressão delimitada pelo material disponível numa época e numa sociedade.
Já propus que, na perspectiva lacaniana, o trauma é o encontro do real – que pode ser uma inesperada e incalculável cena ou frase –, e não o encontro da realidade – isto é, um acidente, um desvio do comportamento de um dos pais, uma disfunção orgânica ou uma condição socioeconômica, que podem muito bem condicionar comportamen- tos, mas não necessariamente produzir os sintomas dos quais falam os psicanalistas. Se esse encontro traumático produz um sintoma, um gozo que insiste em não se estandardizar, é, no entanto, da realidade enquanto linguagem que é a afetar e captu- rar o corpo falante, que se extrai o material que vai compor este sintoma. Em outros termos, o sintoma talvez seja menos o resultado do corpo na contemporaneidade (ou na realidade contemporânea) do que da contemporaneidade no corpo.
Pensar as relações entre corpo e contemporaneidade, então, nos coloca diante da tarefa de investigar como a sociedade contemporânea tem lidado com o que há de mais real, isto é, com a vida, uma vez que não sabemos ao certo o que é estar vivo. Ilustro como penso este modo contemporâneo de lidar com a vida a partir de um trecho do antropólogo David Le Breton (1993/1995), no qual ele descreve a sugestão do psiquiatra americano Willard Gaylin de criar bancos de neomortos, ou seja, uma reserva utilizável de corpos de indivíduos em estado vegetativo crônico.
Os estudantes treinariam neles implantes de toda espécie, operações cirúrgicas delicadas no rosto, nos olhos, no coração, as retiradas da pele, etc. Uns cederiam o que os outros reparariam quase ao infinito no mesmo organismo. Esses corpos estariam disponíveis para os ensaios terapêuticos ou farmacológicos. Os estudantes repetiriam sobre eles gestos mé- dicos (auscultação, exame da retina, toque retal ou vaginal, etc.). Os cirurgiões aí testariam as retiradas e os transplantes de órgãos. Poder-se-ia injetar doenças do sangue e tentar diferentes terapêuticas, sem prejudicar outras categorias da população. Cada fragmento de seu corpo informatizado, classificado para a pesquisa de compatibilidades, os neo-mortos
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 333
CONRADO RAMOS
esperariam pacientemente as retiradas sucessivas, tudo servindo de material para toda sorte de manipulações ou de experiências. Nenhuma dúvida de que a fervilhante imaginação médica seria infinita para rentabilizar esses indivíduos. (p. 63)
Conclusão
Se este for o corpo da contemporaneidade, onde está, nele, o estar vivo que faz do corpo falante aquilo de que se goza? No caso do neomorto de Gaylin, há também um corpo de que se goza, mas, no meu entender, este não é nem o corpo e nem o gozo que a psicanálise busca sustentar.
REFERÊNCIAS
ADORNO, T. W. (1958). Filosofia da nova música. São Paulo: Perspectiva, 1989. (1970). Teoria estética. Lisboa: Edições 70, 2008.
ASKOFARÉ, S. (2009). Figuras do sintoma: do social ao individual. Anotações de conferência apresentada na PUC-SP em 08 de maio de 2009.
BENJAMIN, W. (1940). Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política: obras escolhidas vol. I. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 222-232.
(1955). Charles Baudelaire – um lírico no auge do capitalismo: obras escolhidas vol. III. São Paulo: Brasiliense, 1989.
GERBASE, J. (2009). A hipótese de Lacan. A Peste: revista de psicanálise e sociedade. São Paulo, vol.1, n.1, p. 101-110, jan./jun. 2009.
(2010). O sintoma: sua política e sua clínica. Anotações de conferência apresentada no Contraponto, pelo FCL-SP, em 27 de fevereiro de 2010.
(2011). A hipótese lacaniana. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico, 2011.
HORKHEIMER, M. e ADORNO, T. W. (1947). Dialética do esclarecimento: fragmentos filosó- ficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.
LACAN, J. (1972-73). O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1982.
(1973). Televisão. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 508-543. (1974). La tecera. In: Intervenciones y textos 2. Buenos Aires: Manantial, 2007, p. 73-108.
LE BRETON, D. (1993). A síndrome de Frankenstein. In: SANT’ANNA, D. B. de. Políticas do corpo: elementos para uma história das práticas corporais. São Paulo: Estação Liberdade, 1995, p. 49-67.
SANT’ANNA, D. B. de (1995). Políticas do corpo: elementos para uma história das práticas corpo- rais. São Paulo: Estação Liberdade, 1995.
334
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010
ALGUNS APONTAMENTOS PARA SE PENSAR A RELAÇÃO ENTRE CORPO E CONTEMPORANEIDADE
SOLER, C. (2006). Los ensamblajes del cuerpo. Medelim: Asociacion Foro Del Campo Lacaniano de Medellín, 2006.
VAYSSE, J. (1993). Coração estrangeiro em corpo de acolhimento. In: SANT’ANNA, D. B. de. Políticas do corpo: elementos para uma história das práticas corporais. São Paulo: Estação Liberdade, 1995, p. 39-47.
A peste, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 323-335, jul./dez. 2010 335
En el siglo XIX emergió la histeria como una neurosis incómoda para los médicos: convulsionando como los epilépticos pero sin ser epilepsia, la histeria hacía aparecer un cuerpo incontrolable que no se dejaba aprehender por el discurso médico. Además de convulsionar, las histéricas sufrían de parálisis, afecciones sensoriales, dolores, anestesias, contracturas, zonas histerógenas (lugares hipersensibles del cuerpo cuya estimulación genera un ataque afectivo o convulsivo), alucinaciones, alteraciones emocionales… Aunque lo que más llamaba la atención era el misterio que aguardaba la enfermedad: el origen del síntoma no era el sistema nervioso central y la paciente actuaba como si su cuerpo no le perteneciera.